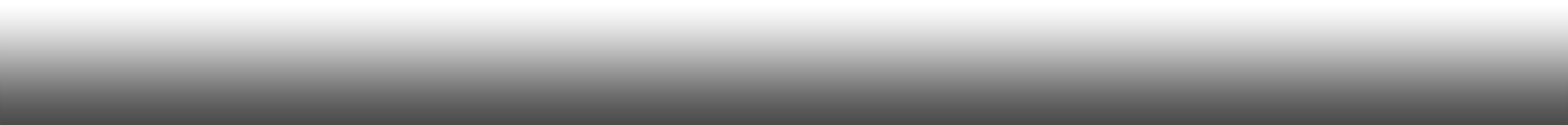A comuna de Cassoneca diz-se uma das mais pobres de Angola, na província do Bengo. Vive da agricultura e da pesca de rio - o Kwanza e o Zenza. Quando, em meados de 1961, os combates desceram da região dos Dembos, então na província do Kwanza Norte e hoje no Bengo, para os arredores de Catete, a zona tornou-se num dos focos da revolta africana.
Hoje, em Calomboloca, capital da comuna, há uma escavadora estacionada junto ao edifício da administração local. Foi usada para abrir uma vala comum onde foram depositados os cadáveres de 500 quimbundos mortos pelas tropas portuguesas. «Contava-se nas matas que muitos homens tinham sido enterrados vivos», disse Eva Kimussangue diante daquele monumento sombrio.
O Zenza do Golungo era de uma beleza de cortar a respiração. Isabel esperava encontrar ali tudo, na terra da sua mãe. Mas agora não sentia nada.
O Zenza do Golungo é o lugar mais isolado de toda a comuna. Aldeia de casas de adobe e colmo, onde se chega cumprindo um trilho de três horas por uma picada de terra vermelha, que na estação das chuvas fica intransitável e no tempo seco só se cumpre aos solavancos.
À medida que se avança pelo terreno, as povoações tornam-se mais raras e o matagal mais denso. Este é caminho para a profundeza de Angola. Macacos saltam pelas árvores e há ali caçadores a tentar capturá-los com armadilhas. Numa aldeia, um animal morto é exposto no ramo de uma árvore, há-de ser fumado para que a carne possa ser consumida nas semanas seguintes. Há gente por ali quase sem roupa e, como o capim ergue-se mais alto do que um homem, não é difícil perceber que aquele era território de emboscadas.
- Nas ruínas da casa que Manoel Junqueira habitou em Catete. Foi aqui que o comandante português decidiu trazê-la para Portugal.
- O quartel de Catete, onde Isabel viveu oito meses.
- O atual comandante do quartel impressiona-se quando ouve a história de Isabel. «Toda a gente perdeu alguém na guerra.»
- O encontro com José Jacinto Diogo, seu tio paterno.
- Foi o tio que a autorizou a partir com as tropas portuguesas. Fê-las prometer que a trariam no fim da guerra. Mas a guerra nunca terminou.
- Às costas de tia Eva e de mão dada à tia Isabel. Foi desta posição que Isabel caiu no mato, 52 anos antes, e foi levada pelos portugueses.
«Nasceste aqui», explicou Eva, «nestas matas». Isabel não respondeu, o isolamento e a aspereza da terra faziam-na talvez imaginar o que a sua vida podia ter sido. «Eu tive muita sorte em ser levada para Portugal», diria. «Não me consigo imaginar a viver num sítio assim. Nos musseques, onde há vida e música, eu admito que sim. Mas ali, no meio de toda aquela beleza de cortar a respiração, fiquei com uma sensação de vazio.» Era como se aquele lugar a anestesiasse, explicou. Esperava encontrar ali tudo, na terra da sua mãe. Mas agora não sentia nada.
O carro ficou estacionado junto à água e foi então que a sua tia esclareceu que ela tinha sido capturada ali à frente, num vale que se chamava Umbanda e que hoje está completamente inundado. «Nessa altura nós só víamos mata. Havia guerra e não podíamos ir para as aldeias. Não tínhamos roupa, comíamos o que apanhávamos.»
Isabel tinha dois anos quando os tropas a levaram. E a sua mãe tinha duas filhas mais novas do que ela, eram três crianças de colo. «Então ela pediu à nossa mãe para ficar com a mais velha.» Em guerra, andavam sempre em fuga – tanta infância era sentença de morte. «Fui eu que fiquei responsável por tomar conta da minha sobrinha. Naquele dia, ia com ela às costas apanhar mandioca. Na mão levava a minha irmã mais nova, que também se chama Isabel. E foi aí que ouvi um barulho na mata.»
Em Angola é comum haver repetição de nomes entre pais e filhos, tios e sobrinhos, às vezes irmãos. Quando isso acontece, os quimbundos dizem que são xará um do outro. Então Isabel era xará da sua tia mais nova, tal como Eva o era em relação à irmã mais velha. Quando ouviu movimento nos matos, a mulher pensou que andavam javalis à horta e agarrou num pau para os espantar. «Mas nisto oiço um tiro.»
Começa a correr em debandada e a pequena escorrega-lhe das costas. «Quando volto para trás, vejo os soldados muito perto. Então eles disparam outro tiro e gritam para eu não fugir que não me faziam mal.» Semanas antes, as tropas tinham morto duas mulheres no capim, como é que ela ia confiar neles? A voz de Eva começa a falhar, não há de tardar para desmanchar-se em lágrimas. «Eu queria voltar atrás, mas não podia. Não podia, Isabel, não podia.» A sobrinha faz-lhe festas e tranquiliza-a. «Foi a guerra.»
O tio disse que podiam levar a criança, mas teriam de entregá-la no fim da guerra. Mas a guerra não acabou a tempo.
Quando a notícia chegou aos ouvidos de Manuel Jacinto Diogo e Eva Manuel Adão toda a gente pensava que a criança estava morta. O pai de Isabel, que nunca gostara da ideia de ter descendência longe de si, zangou-se com a mãe. «Ele disse que não queria mais ficar com a minha irmã, a culpa era dela e mandou-a de volta para os pais.» Então a mulher voltou com duas crianças pequenas e uma mágoa irreparável. Nos meses seguintes, mãe e filhas contraíram malária e, no espaço de dois anos as crianças morreram. Em 1968, convencida de que perdera toda a sua prole, Eva Manuel Adão não resistiu à febre. «Ela morreu de doença, sim, mas a doença foi o desgosto.»
O que os pais de Isabel não podiam saber é que, dias depois da filha ser capturada, o irmão de Manuel Jacinto Diogo, José, era apanhado pelas tropas portuguesas. Líder de um pelotão da resistência, levaria sete tiros que ainda hoje são bem visíveis nas cicatrizes do corpo. «Quando saí do hospital e fui levado para o quartel de Catete. Assim que a miúda me vê, salta para o meu colo. Levantei a criança e disse: 'Esta é a Bela, é a filha do meu irmão.'»
- O caminho para o Zenza do Golungo, onde Isabel nasceu e foi apanhada pelas tropas portuguesas.
- No quartel que um dia foi português e agora é angolano. Isabel é igual a uma parede cor de rosa, tem duas nacionalidades.
- O musseque do Monte da Areia, onde Isabel se despediu da família.
- A despedida de Isabel tem honras de gala. Mais família, sempre com a melhor das indumentárias.
- Houve música no início e houve música no fim. Para a despedida, Mateus compôs esta música: «Boa viagem, boa viagem, o povo que te viu a crescer te espera.»
- Yuri irrompe em lágrima quando a tia se despede de Angola. Foram oito dias para compensar 52 anos.
José Jacinto Diogo tem hoje 88 anos e diz que esses dias de prisão no quartel foram alguns dos melhores da sua vida. «Comíamos três vezes por dia. A Isabel mais, porque os soldados gostavam muito dela.» Um dia, o comandante do batalhão 525 dirigiu-se a ele e disse que queria levar a criança para Portugal. Margarida, mulher do tenente-coronel Manoel Junqueira, tinha-se encantado com a miúda que passava o dia a comer batata doce, haveria de cuidá-la como sua.
«Eu decidi que ela podia ir para Lisboa porque os pais não apareciam, estavam nas matas.» E combinou tudo com os militares, incluindo o registo notarial. «Se têm boa vontade, podem levá-la. Mas depois, no fim da guerra, têm de entregá-la outra vez.» O problema é que a guerra não terminou a tempo. Margarida Junqueira, a mãe adotiva, morreria em 1977, Manoel Junqueira em 2001 e a Guerra Civil Angolana só chegaria ao fim em 2002, com a morte de Jonas Savimbi.
Com a independência de Angola, e a libertação de José Jacinto Diogo, os dois lados da família de Isabel tiveram finalmente notícia de que a rapariga estava viva. E, ao longo das décadas seguintes, fariam todos os esforços por encontrá-la. «O meu irmão sempre disse que devíamos procurar a nossa filha perdida em Lisboa. Ele queria muito ir lá, sentia muita falta. Até ao dia em que morreu nunca esqueceu», diz o antigo guerrilheiro. Contactaram o administrador de Catete, Mendes de Carvalho, que conseguiu descobrir que a rapariga vivia na antiga metrópole mas nunca chegou à sua localização.
«Houve uma altura em que me deu vontade de correr por ali abaixo. Correr, correr, correr e só parar quando não tivesse mais ar no peito. Quando não tivesse mais nada dentro de mim.»
Eva Kimussangue escreveu uma carta à embaixada de Portugal em Angola, mas não obteve resposta. Em 1999, participou num programa de reencontros da televisão pública angolana, chamado Nação Coragem. «Eu cheguei lá e disse: Isabel Manuel Jacinto, filha de Manuel Jacinto Diogo e Eva Manuel Adão, eu sou a tua tia e estou à tua procura. Por favor dá uma resposta. Passou um ano. Nada.» A criança que os portugueses levaram para o quartel de Catete, convenceu-se Eva, estava perdida para sempre.
Houve um dia em que Isabel Batata Doce foi visitar as instalações militares onde crescera, hoje das Forças Armadas Angolanas. Quando assomou ao portão, o tenente Maurício dos Santos fechou o rosto, ninguém podia entrar ali sem a sua autorização. Quando ouviu a história de Isabel, no entanto, o homem emocionou-se e abraçou-a comovido. «Neste país, todos perdemos alguém que nunca mais encontrámos. É um milagre.»
Isabel percorreu o quartel em silêncio, como horas antes tinha passeado sem palavras pelo que um dia tinham sido as casas dos oficiais portugueses. Do tempo do colono restavam apenas escombros e um edifício cor de rosa. Raspando a tinta com uma faca, um militar descobriu as letras que indicavam a sala de comunicações, onde a criança tinha sido criada.
Ela não se lembrava de nada, mas o coração estava num sobressalto. Era ali que o seu destino se tinha decidido. «Houve uma altura em que me deu vontade de correr por ali abaixo. Correr, correr, correr e só parar quando não tivesse mais ar no peito. Quando não tivesse mais nada dentro de mim.» De certa forma, era como se Isabel tivesse nascido de novo.
No último dia em Angola a família retomou a festa. Houve baile até de madrugada, houve discursos e leitura de poemas, uma música nova para a despedida: «Boa viagem, boa viagem, o povo que te viu a crescer te espera.» Naquela semana angolana, confessaria Isabel, a vida tinha-se resolvido toda. Cinco décadas de incerteza e o círculo finalmente fechado. «Eu sou tão feliz, meu Deus, sou tão feliz. Sinto que agora sou uma mulher completa. Tenho a minha família em Portugal e tenho uma família em Angola – uma família que sempre me procurou, que nunca se esqueceu de mim.»
À chegada a Portugal sofreria de saudades, prometeria a si mesma que voltaria o mais brevemente possível, mas aqui e agora Isabel sabia tudo, sentia tudo, e a única coisa que conseguia fazer agora era dançar a sua vida. E dançou, dançou a noite toda. Dançou até não poder dançar mais.