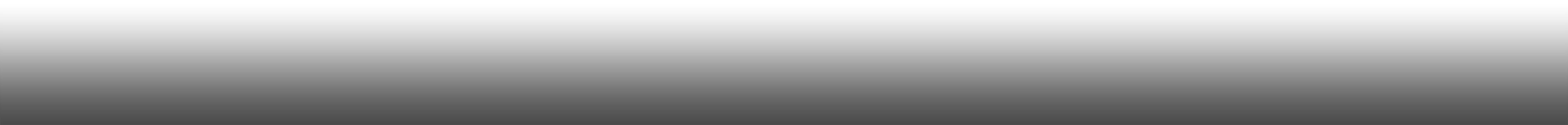Foram precisos 52 anos para o círculo se fechar. Em 1965, durante a Guerra Colonial em Angola, um grupo de soldados portugueses encontrou uma bebé no mato. Batizaram-na Isabel Batata Doce e trouxeram-na para Portugal, onde cresceu sem saber do seu passado. Em África, a família procurou-a durante cinco décadas. Até encontrá-la. Há dois anos a Notícias Magazine contou o lado português da história. Esta é outra parte, a dos dias em que Isabel regressou à sua terra, percebeu quem era e nasceu de novo. Esta, na verdade, é a história de um milagre.
Nos dias que anteciparam a partida para Luanda, Isabel era metade entusiasmo e metade angústia. A incerteza do que estava para vir deixava-a com o coração partido ao meio. Sabia que a vida lhe andava a preparar um grande espetáculo, mas não sabia se ia gostar do enredo. «Ela só chora», queixou-se um dia ao telefone João, marido e pai dos seus dois filhos.
Tinham, afinal, passado 52 anos desde que saíra de África. E aquele podia ser o regresso com que sempre sonhara, sim, mas à medida que a data se aproximava cresciam-lhe receios no peito. Suspirava de vez em quando: «Então e se eles não forem boas pessoas?» Era sobretudo isso que a preocupava.
Sabia que a vida lhe andava a preparar um grande espetáculo, mas não sabia se ia gostar do enredo.
Ano e meio antes, as coisas tinham-se precipitado. Isabel, como diria a sua tia materna Eva Kimussangue, «é filha da história». Em 1965, um grupo de soldados portugueses que patrulhava o rio Zenza, em Angola, durante a Guerra Colonial, apanhou-a no meio da mata - tinha caído das costas da mulher que a levava.
Decidiram abrigá-la no quartel de Catete e ali passou oito meses, até a mulher de um oficial se encantar com a menina e querer trazê-la para Portugal, onde a adotou. Tinha dois anos quando chegou a Lisboa e nada sabia da sua ascendência. Apesar dos documentos a identificarem como Isabel Manuel Jacinto, subsistiria para sempre a alcunha que os tropas lhe atribuíram: Isabel Batata Doce.
- Em Luanda, a cidade de todos os contrastes.
- No Museu das Forças Armadas de Luanda, a visitar o outro lado da guerra.
- Na Fortaleza de São Miguel, onde está instalado o memorial aos combatentes da independência angolana.
- A caminho do Caxito, para visitar a família paterna.
- Abraçada a Yuri, seu sobrinho, junto ao rio Dande.
- Crianças tomam banho no Dande. «Meus Deus», diz Isabel, «eles são tão felizes».
A viragem deu-se quando, em 2015, entrou no arquivo do Diário de Notícias à procura de um artigo sobre o seu batismo. A chegada da menina tinha feito honras de primeira página do jornal cinco décadas antes. E, dentro de dias, estava marcado um almoço de celebração de 50 anos de regresso a salvo do batalhão 525, o que a tinha resgatado.
Esse encontro acabaria por ser o ponto de partida para uma investigação jornalística na Notícias Magazine que, não só lhe esclareceria muitas dúvidas, como acabaria por ter ecos em Angola. A partir da publicação de Um Milagre na Guerra, ou As Muitas Vidas de Isabel Batata Doce, ela sabia que o encontro com a família biológica era apenas uma questão de tempo.
Um milagre na guerra
Ou as muitas vidas de Isabel Batata-Doce. Uma reportagem que valeu ao jornalista Ricardo J. Rodrigues o prémio Gazeta 2015 na categoria de Imprensa.

Assim que as rodas do avião beijaram a pista do aeroporto Agostinho Neto, a mulher irrompeu num pranto de menina. Os passageiros retiravam malas, acotovelavam-se para descer as escadas, apressavam a corrida para os autocarros. Sentada na sua cadeira, Isabel chorava, chorava, chorava.
Chegara a Angola. E não havia mais nada a fazer, tudo o que acontecesse fazia parte de um plano que a vida lhe reservara e ela não conseguiria controlar. Nesse primeiro dia, visitou Luanda com a admiração do forasteiro que chega a um sítio novo. Desdobrava-se em perguntas sobre edifícios e hábitos, disparidades sociais, modos de vida. A determinada altura um homem passou por ela a cantar. Era um tipo bem vestido que descia uma rua do bairro de Alvalade com o semba a escapar-lhe da boca. «Meu Deus», notou Isabel, «eles são tão felizes.»
Tinha oito dias em Angola. Oito dias para reencontrar a família, visitar o passado, entender o que nunca tinha podido perceber. Os planos para a odisseia africana tinham sido traçados em Lisboa. «Vais ter de ir a Catete e ao Caxito para conheceres as tuas irmãs», dissera-lhe Joaquim Almeida, um primo que viajara para Portugal para fazer tratamentos médicos e a visitara no Batata Doce, o restaurante que Isabel e o marido abriram em 2012 na Rua São João da Mata, entre a Madragoa e a Lapa. Joaquim tornara-se no barco que transportava carga de saudade entre Europa e África. Avisara toda a família de que a filha perdida estava viva. E que era tempo de preparar a sua chegada.
Foi na verdade por um acaso que a família de Isabel a descobriu em Portugal. Em 2015, ela recebeu um telefonema de um homem chamado Roberto, que lhe perguntou se ela era Isabel Manuel Jacinto, filha de Manuel Jacinto Diogo e Eva Manuel Adão. Disse-lhe que era seu sobrinho. Ela duvidou, mas os nomes batiam certo e a história que ele contava também.
Roberto, saberia mais tarde, era genro de uma das suas irmãs e tinha vindo a Portugal passar umas semanas em trabalho. Antes de morrer, a sogra encarregara-o de procurar a criança que os portugueses levaram. Um dia, no Facebook, o homem dera com um restaurante chamado Batata Doce que servia comida angolana. E pensou: «Caramba, batata doce é coisa de Catete.» Abriu a página e viu fotografias de uma mulher chamada Isabel Jacinto. Depois de encontrá-la, avisou Angola. Um ano depois, Joaquim viria para Lisboa e consigo traria o abraço que ela esperava há cinco décadas.
Foram 52 anos de tristezas e choros. Receba amorosamente e de forma muito expressiva a família que te aguarda há 52 anos. Seja bem vinda à sua mãe pátria, Isabel Manuel Jacinto Batata Doce.»
E assim começara a epopeia que trouxera Isabel a Luanda, onde estava agora, numa manhã de Março, a comer frutas tropicais no pequeno almoço do Hotel Alvalade. Já estava bem disposta: nesse dia iria encontrar o lado paterno da família, no Caxito, capital da província do Bengo. Quando terminou a guerra colonial, uma boa parte dos Jacinto mudou-se para a cidade 60 quilómetros a norte de Luanda. «Depois da guerra veio mais guerra», haveria de contar mais tarde Esperança, irmã mais velha de Isabel. «E nós já não aguentávamos mais morte. O campo era morte, era fome, era escuridão. No Caxito não havia tiros, podíamos dormir de noite, procurar comida. Então fomos.»
O pai de Isabel morreu em 2010, e isso ela já sabia porque o primo lhe tinha contado em Lisboa. Manuel Jacinto Diogo morreu no dia 13 de maio, data do aniversário de Isabel Batata Doce. Antes de partir, juntou filhos e sobrinhos e no leito de morte fez-lhes prometer que procurariam a sua filha perdida e a trariam a Angola. Mas essa história só chegaria aos ouvidos de Isabel mais tarde. Agora, diante de um prato de manga, ananás e papaia, ela sentenciava: «Quero perceber que tipo de homem ele era. E quero saber mais da minha mãe, que segundo me contaram morreu pouco depois de eu ser levada.» As mãos agitavam-se ainda mais do nervosismo. «Eu sei tão pouco. Sei tão pouco.»
- O crepúsculo, uma das poucas lembranças de África.
- «A minha terra é linda. Cheira a que alguém foi feliz aqui.»
- Na barragem do Dande, já na província do Bengo.
- Paragens na barragem do Dande, para molhar o rosto.
- Isabel emociona-se enquanto os familiares a fotografam.
- O documento que permitiu a Isabel encontrar o passado.
Isabel não fazia ideia que, já na receção do hotel, estava um homem à sua espera. Yuri Benedito, seu sobrinho, tinha vindo a Luanda buscar a tia. Enquanto ela atravessava o corredor até ao elevador, ele abriu os braços e falou numa voz potente e emocionada: «Foram 52 anos de tristezas e choros. Receba amorosamente e de forma muito expressiva a família que te aguarda há 52 anos. Seja bem vinda à sua mãe pátria, Isabel Manuel Jacinto Batata Doce. Seja bem vinda à sua mãe pátria.» Um improviso preparado. À angolana.
Isabel, primeiro, estacou. Depois correu para Yuri e abraçou-o em lágrimas. Ele pegou-lhe ao colo, rodopiou e também não conteve o choro, enquanto Isabel murmurava no seu ombro: «Obrigada, obrigada.» Mesmo que tia e sobrinho não se conhecessem, mesmo que nunca se tivessem visto antes, naquele abraço cabia uma intimidade de décadas.
Mesmo que não se conhecessem, mesmo que nunca se tivessem visto antes, naquele abraço cabia uma intimidade de décadas.
O carro avançava agora pelo alcatrão, rumo ao reencontro com o resto da família. Duas horas de caminho, que a distância em África nem sempre é coisa linear. Primeiro a passagem pelos musseques que rodeiam a capital, casas pobres e empoleiradas, gente a galgar as ruas, a vir à beira da estrada vender tudo o que fosse preciso, e o que não fosse preciso também. Depois o mato. África e os embondeiros que Isabel sonhava ver há anos.
Conversando com Yuri, Isabel perguntava-lhe sobre o que estava para vir, mas tinha de se conformar com o mistério nas respostas, adivinhando que estava para chegar uma surpresa. Quando cruzou o rio Dande, pediu para sair do carro e mergulhou as mãos na água. Um pescador andava aos lúcios, mais abaixo um grupo de miúdos atirava-se à água numa alegria incontida e, nisto, ela desatou a chorar.
Haveria de acontecer muitas vezes, nesse dia e nos dias seguintes. Ao meter as mãos na terra vermelha, ao encontrar a água do rio ou simplesmente ao vislumbrar um vale que era todo beleza, Isabel comovia-se com o território que podia ter sido seu. «A minha terra é linda. É muito, muito, muito bonita. Cheira bem. Cheira a que alguém foi feliz ali.»
O carro agora abandonava o alcatrão, percorria um caminho apertado por entre picadas e árvores, rumo à aldeia onde cinco décadas de incerteza finalmente se resolveriam. Ninguém falava, e a emoção era tamanha que o ar se tornava carregado. Uma última curva. Yuri indicou com a mão para virar numa ruela à esquerda e disse: «Pronto, é agora.»